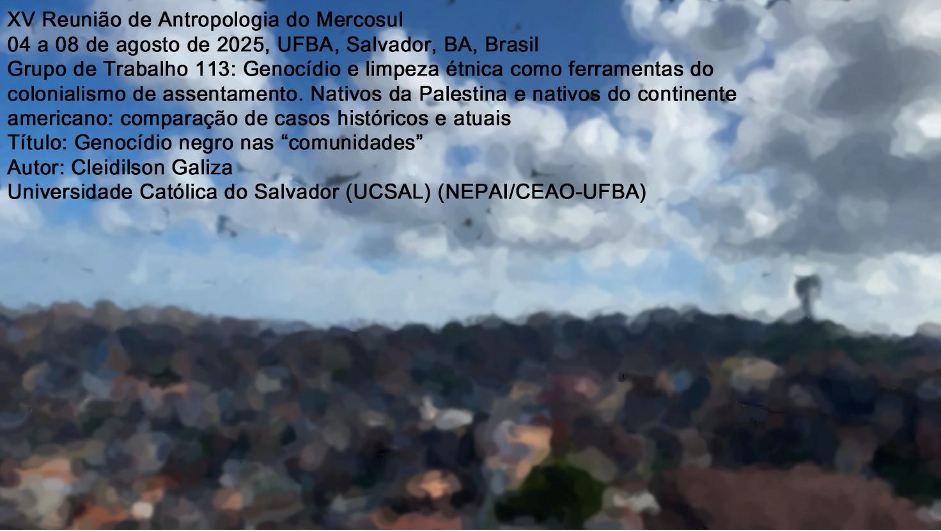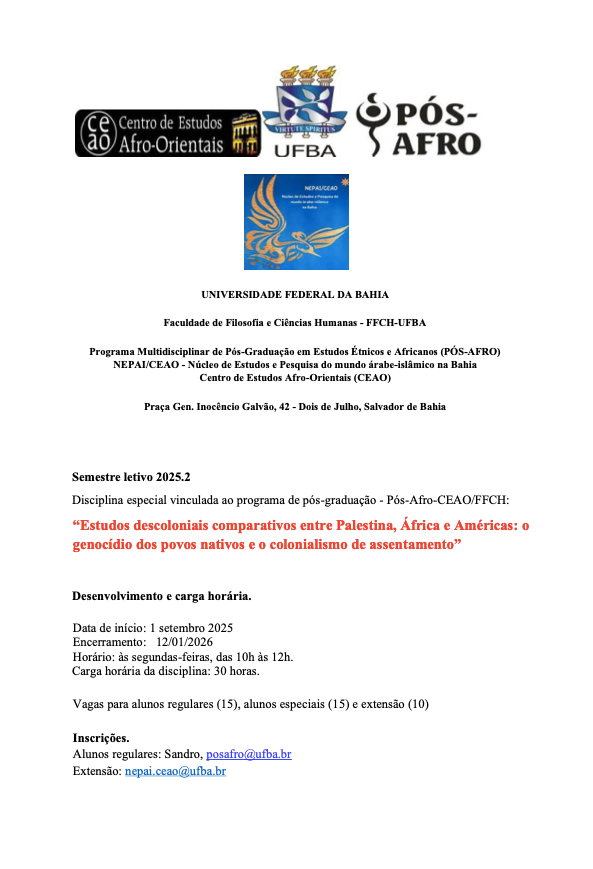Jornalggn.com.br. Por Francirosy Campos Barbosa (*). O artigo “Israel não comete genocídio em Gaza, mas pode estar a caminho”, assinado por Benny Morris e publicado na Folha de S.Paulo, tenta demonstrar que Israel ainda não comete genocídio, para isso, o autor recorre a um argumento técnico-jurídico que ignora a dimensão humana, histórica e estrutural do que se desenrola há quase oito décadas nos territórios palestinos. Quando a desumanização já é política de Estado, quando civis são mortos em massa, quando infraestrutura civil é deliberadamente destruída e o acesso à água, comida e abrigo é bloqueado, quando se viola todos os direitos internacionais — o genocídio não está “a caminho”, ele está em curso.
A retórica de Morris normaliza a violência extrema ao argumentar que, embora Israel cause destruição em Gaza, não há intenção genocida porque não há, segundo ele, um plano formal de extermínio. Mas essa leitura estreita da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio (1948) ignora o que estudiosos do genocídio têm enfatizado: a intenção não precisa estar formalizada em decretos — ela se revela na sistematicidade dos ataques, nas palavras dos líderes e no resultado material da política. A destruição das condições de existência de um povo é, por definição, genocídio. As mortes, as mutilações são cotidianas.
Outro ponto grave do artigo é o uso descontextualizado de passagens do Alcorão, como a menção à transformação de judeus em “porcos e macacos”, atribuída ao Hamas. Tal referência, retirada do versículo 5:60, tem sido amplamente manipulada em discursos políticos e islamofóbicos. O Alcorão de fato menciona, em passagens como 2:65 e 5:60, a punição divina imposta a um grupo específico que violou gravemente os mandamentos religiosos — geralmente interpretado como um grupo de judeus que desrespeitou o sábado. Contudo, os grandes comentaristas clássicos, como Al-Ṭabarī e Ibn Kathīr, foram claros: trata-se de uma punição pontual, localizada no tempo, e não de uma condenação generalizada a todo o povo judeu. Muitos estudiosos muçulmanos contemporâneos entendem inclusive essas passagens de forma alegórica ou moral, rejeitando qualquer uso delas para justificar violência ou ódio religioso.
O que raramente se menciona, por outro lado, é que o mesmo Alcorão, na Surata Al-Mā’idah 5:82, afirma: “Encontrarás os mais próximos em afeição aos que creem aqueles que dizem: ‘Somos cristãos’. Isso porque há entre eles monges e sacerdotes, e porque não são arrogantes.” Essa é uma das muitas passagens que apontam para a possibilidade de respeito mútuo e convivência inter-religiosa, quando fundamentadas na humildade e na justiça. Essa perspectiva é coerente com a Constituição de Medina — documento político e jurídico redigido pelo Profeta Muhammad ao chegar em Medina, no qual se estabelece um pacto entre muçulmanos, judeus e outros grupos religiosos como parte de uma mesma “umma” (comunidade). A constituição garantia liberdade de crença, segurança mútua e cooperação política, sendo um exemplo histórico de pluralismo e governança compartilhada. Isso desmonta a ideia de que o Islam seria incompatível com a convivência entre diferentes crenças: a desumanização religiosa, portanto, não tem base teológica, mas sim ideológica.
A estratégia de apresentar Israel como uma democracia sitiada, obrigada a agir por autodefesa, escamoteia a realidade do apartheid e da ocupação prolongada. A desumanização dos palestinos não é um fenômeno novo: ela é o alicerce do regime de exceção que os governa desde 1948 e se aprofunda com os ataques atuais. A construção do inimigo como bárbaro, irracional e fanático é a engrenagem simbólica que viabiliza a limpeza étnica sob os olhos do mundo. Como alertou Claude Lévi-Strauss, em Raça e História, “bárbaro é aquele que acredita na barbárie” — ou seja, aquele que se autoriza a excluir, silenciar e matar em nome de uma pretensa superioridade civilizatória.
Chamar o que acontece em Gaza de “conflito” ou sugerir que o genocídio ainda pode ser evitado é escolher o silêncio frente à barbárie. É uma forma de cumplicidade. O artigo de Morris tenta vestir de neutralidade um discurso que normaliza o extermínio e desqualifica o sofrimento palestino. Frente a mais de 50 mil mortos, em sua maioria mulheres e crianças, a negação do genocídio não é apenas insensibilidade — é uma forma de violência.
A negação do genocídio torna-se ainda mais gritante diante das imagens recentes que emergem de Gaza. No final de março de 2025, uma explosão em Rafah jogou corpos de civis pelos ares — entre eles, mulheres e crianças que buscavam abrigo em tendas improvisadas. Vídeos amplamente divulgados por agências internacionais e por jornalistas locais mostram o desespero de equipes médicas tentando socorrer feridos com recursos mínimos, em meio a um cenário de devastação total.
Paramédicos da Crescente Vermelha e da ONU têm sido alvos diretos dos ataques. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 340 profissionais da saúde foram mortos desde o início da ofensiva israelense em outubro de 2023. Em março, dois ambulatórios foram bombardeados, matando paramédicos enquanto prestavam socorro em plena luz do dia. Não se trata de “efeitos colaterais”, mas de um ataque sistemático à infraestrutura civil vital para a sobrevivência.
O mesmo vale para os jornalistas: mais de 140 repórteres e cinegrafistas palestinos foram mortos, muitos enquanto usavam coletes identificados como “press”. Um ataque ocorrido em janeiro queimou vivos dois jornalistas que transmitiam ao vivo de Khan Younis. Os registros feitos por seus colegas pouco antes do ataque evidenciam que estavam em uma zona claramente demarcada como área de imprensa. Silenciar essas vozes não é mero acaso — é parte de uma política de controle narrativo que visa apagar a memória do povo palestino.
As cifras da morte são estarrecedoras: mais de 50 mil palestinos foram mortos, segundo fontes locais, das quais mais de 70% são mulheres e crianças. Isso sem contar os milhares de desaparecidos sob os escombros, as dezenas de milhares de feridos, e os mais de dois milhões de pessoas deslocadas internamente dentro de Gaza — praticamente toda a população. Escolas, hospitais, mesquitas, igrejas e mercados foram destruídos. A fome atinge níveis catastróficos, com crianças morrendo por inanição em hospitais sem eletricidade. As Nações Unidas já classificaram Gaza como “inabitável”.
Negar que isso configura genocídio é participar do projeto de sua normalização. O genocídio não é apenas o extermínio direto — é a destruição deliberada das condições que tornam possível a vida de um povo. O apagamento do futuro palestino não está “a caminho” — ele está sendo executado agora, com a anuência de uma comunidade internacional que, na melhor das hipóteses, se cala.
Frente a essas evidências, o artigo de Morris soa como uma tentativa de tecer um véu jurídico sobre uma realidade insuportável. Mas os corpos carbonizados, os gritos das crianças soterradas, os profissionais de saúde mortos em serviço — tudo isso rompe qualquer esforço de abstração. Não se trata mais de “debate” ou “opinião”: trata-se de responsabilização, de nomear o horror pelo que ele é, e de recusar a cumplicidade com o extermínio de um povo.
(*) Francirosy Campos Barbosa – Antropóloga, professora da USP, pós-doutora por Oxford.